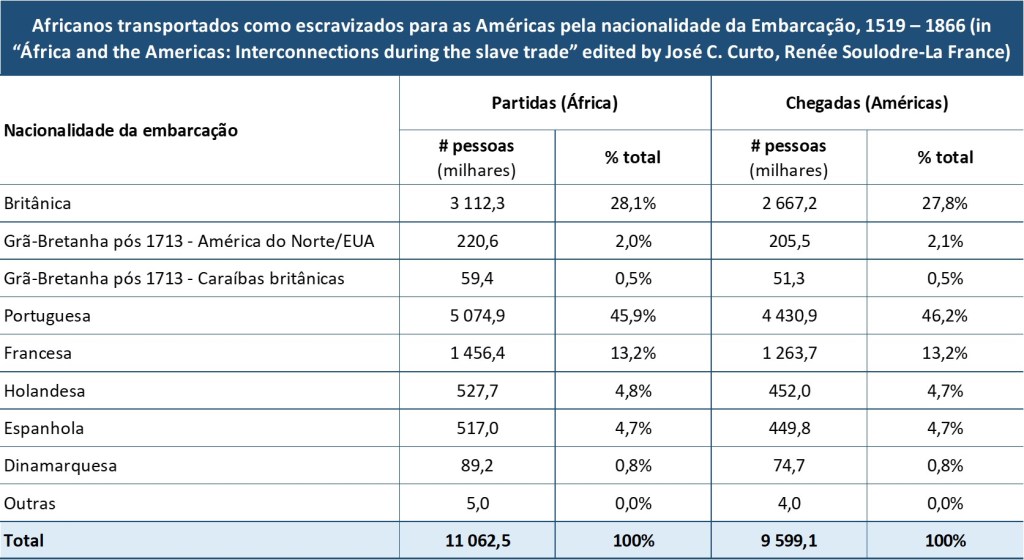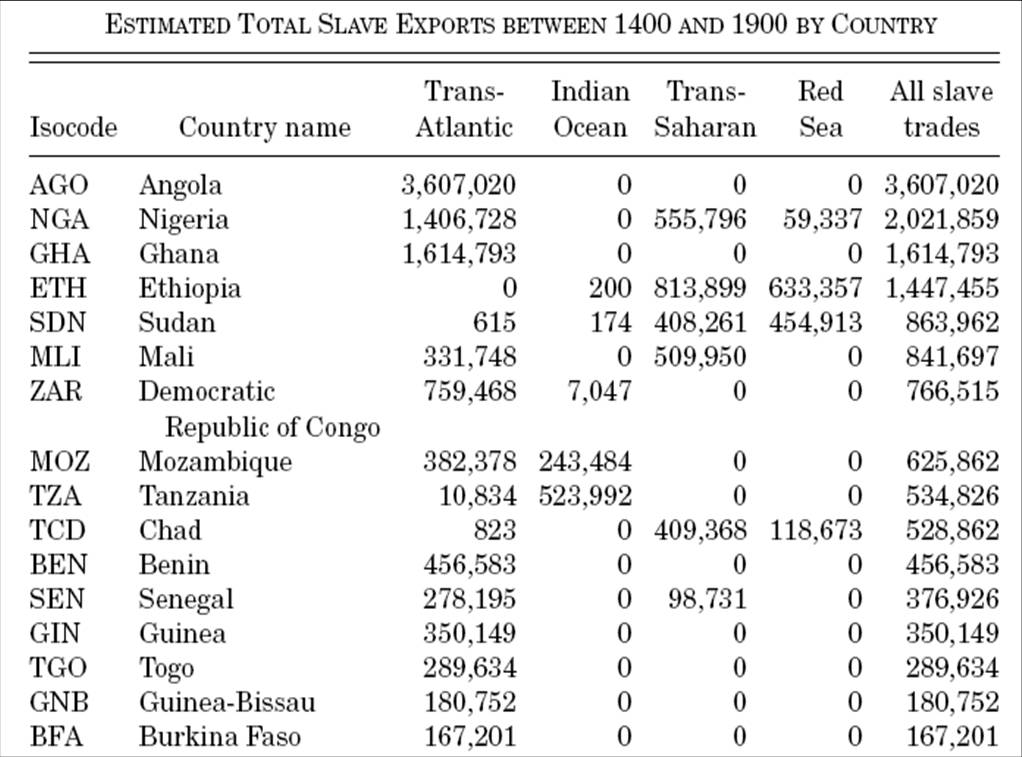Há umas semanas um amigo enviou-me uma notícia da Deutsche Welle dando conta que o nome da Rainha Njinga Mbandi do Ndongo e Matamba tinha sido rejeitado para integrar a toponímia do bairro africano de Berlim porque a soberana do Ndongo do século XVII participou no comércio transatlântico de escravos que vigorou entre o final do século XV e o final do século XIX.

Curiosamente, por desconhecimento da história, muitas pessoas ficam chocadas quando tomam conhecimento que soberanos e comerciantes africanos tiveram um papel activo no comércio de pessoas que levou milhões de africanos como escravizados para as Américas. Este desconhecimento, naturalmente estende-se ao modelo organizacional e político das sociedades da altura e como a expansão do comércio de escravos entre as duas costas do Atlântico alterou estas sociedades, alimentando guerras e destruição de nações e reinos africanos. Contudo, o processo de produção de escravos (na linguagem historiográfica) não se resumiu a guerras de iniciativa europeia associadas aos planos de instalação colonial nas terras que são hoje Angola mas também por via da colaboração entre comerciantes europeus e africanos, representantes da realeza europeia, a igreja católica e soberanos africanos.
O infame comércio que levou milhões de pessoas da costa ocidental africana para o sul da Europa no final do século XV ganhou dimensão apenas no segundo quarto do século XVI quando as relações de Portugal com o Reino do Kongo, sedeado em Mbanza Kongo, se foram cimentando a medida que Portugal expandia a colonização do Brasil, processo que foi o principal indutor da procura por escravos africanos. As relações diplomáticas estabelecidas entre os soberanos do Kongo com o Reino de Portugal abriram o caminho para a maior presença de comerciantes portugueses na costa angolana que trocavam manufacturas europeias e asiáticas por pessoas e produtos africanos (como marfim e peles).
Joseph Miller no seu influente livro “Way of Death – Merchant Capitalism and The Angolan Slave Trade 1730-1830” tenta desmistificar o choque das sociedades modernas quando se deparam com o facto de existirem africanos envolvidos no comércio de escravos, apresentando o papel que os escravos representavam nas sociedades africanas e como poderiam chegar à tal condição. Miller defende que na África centro-ocidental da altura (essencialmente no que é hoje Angola) o poder dos soberanos assentava na capacidade de controlar os bens e na quantidade de pessoas sob sua dependência, quer fossem livres ou escravos, sendo que a fluidez da condição de escravo permitia a ascensão social e não implicava limitações extremas à sua interacção com a sociedade alargada.
Miller afasta a noção do comércio de pessoas ser inerente à sociedade africana da altura: O historiador defende que a noção de comércio de produtos era estranha a sociedade africana que seguia um modelo de produção comunitário e sem a busca pelo o excedentário. No entanto, o triunfo do comercialismo com a chegada dos europeus alterou a abordagem dos africanos, em particular os seus soberanos.
[…] before the advent of slaving ad commercialism, goods were not generally viewed as made for exchange. The purpose of production was for use within community , with the ordinary distribution of products handled under the rubrics of inheritance, redistribution, or sharing.
“Way of Death – Merchant Capitalism and The Angolan Slave Trade 1730-1830” – Joseph C. Miller
É importante acrescentar que os comerciantes lusitanos e a coroa portuguesa souberam habilmente tirar proveito e manipular a seu favor conceitos existentes na sociedade africana para desenvolver a sua actividade, nomeadamente explorando a escravização por via judicial (punição por dívidas, furtos, homicídios e feitiçaria) e iniciando ou apoiando guerras entre territórios rivais uma vez que era cultura local transformar prisioneiros de guerra em escravos.
O modelo judicial foi crescendo a medida que o Reino de Portugal foi instalando feitorias no território que é hoje Angola e o Brasil se tinha tornado na jóia da coroa do Império colonial portugês com uma procura insaciável por mão-de-obra escravizada que era maioritariamente originária de Angola. A historiadora brasileira Mariana Cândido evidencia no livro “An African Slaving Port and the Atlantic World: Benguela and Its Hinterland” como o comércio de escravos afectou as instituições africanas, tornando as armas de fogo e produtos manufacturados trazidos por europeus em meios essenciais para manutenção do poder, o que levou muitos reinos africanos a busca desenfreada por produtos trazidos pelos europeus (e brasileiros) que eram trocados por escravos.
Scholars have pointed to the use of judicial litigation as an example of African agency and resistance to enslavement. José Curto and Roquinaldo Ferreira, for example, have identified cases where captives relied on relatives to challenge their enslavement. Curto and Ferreira failed to recognize , however, that despite their agency, litigants reinforced the role of Portuguese colonial officials as arbitrators of their fate. West Central Africans were compelled to accept that Portuguese agents could decide who was “legally” or “illegally” enslaved, revealing the compliance of all involved with the system and the notion of slavery as a legal institution. In the process of fighting for their freedom, litigants accepted and reinforced the legality of slavery. Victims of the expansion of the trans-Atlantic slave trade, through their resistance, contributed to legitimizing slavery.
“An African Slaving Port and the Atlantic World: Benguela and Its Hinterland” – Mariana P. Cândido
Existe igualmente a ideia relativamente recente de “denunciar” o facto de “negros escravizarem negros” que é factual do ponto de vista das concepções raciais modernas mas que não encontra sustento na construção social africana da altura uma vez que as guerras entre territórios não tinham uma base racial e não existia a lógica de “africanos” uma vez que um habitante do Ndongo não era necessariamente amistoso para um habitante do Mbailundu simplesmente por ter a mesma tez de pele. O amalgamento do negro africano numa única categoria – negro/preto/africano/escravo – é uma construção do colonialismo europeu, que como consequência do processo de desumanização com base na cor da pele gerou solidariedade entre pessoas negras e seus descendentes nas colónias europeias, criando assim a noção de solidariedade africana e pan-africanismo, derivadas do processo de colonização.
A participação de locais no processo de escravização e posterior deportação de pessoas para as Américas foi um elemento central durante todo o período do comércio transatlântico de escravos, com diferentes níveis de envolvimento ao longo dos anos. Contudo, é útil fazer uma distinção entre o modelo de tratamento e regulação da vida dos escravos nas Américas do seu tratamento em África.
Os historiadores contam que os escravos na África centro-ocidental estavam sujeitos a limites à sua liberdade, incluindo a possibilidade de poderem ser enviadas para as Américas por decisão exclusivamente de terceiros, mas também reconhecem a fluidez que possibilitava a mobilidade social e ascensão à liberdade, por exemplo, a mãe de Njinga Mbandi era uma escrava do rei.
Ademais, não existia em África a exploração industrial da mão-de-obra escrava que está na base das altas taxas de mortalidade dos africanos nas primeiras décadas da colonização do Brasil, que por algumas vezes levou a protestos de soberanos africanos depois de reportes que recebiam, sobretudo, de religiosos com visitas aos dois lados do Atlântico.
As imagens chocantes normalmente associadas à este período da história marcadas pelo transporte em parcas condições, trabalho e punições extremas são sobretudo uma realidade colonial das Américas, uma vez que não sendo uma diferença de água para o vinho, a interacção dos europeus com os africanos em África era menos excessiva e esta realidade passou a ser do conhecimento geral em Angola – sobretudo onde existiam feitorias europeias enraizadas – como evidencia o facto da deportação para o Brasil para os escravizados ser vista como a maior das punições a seguir a morte (para escravos trazidos do interior, a associação do mar à morte era igualmente um factor de desespero).
Os soberanos africanos que se tornaram dependentes de produtos trazidos pelos comerciantes para manterem ou expandirem o seu poder, tornaram-se numa peça fundamental para geração de escravos muito procurados para a colonização das Américas, com destaque para o sul e para as ilhas caribenhas. O aumento das áreas cultivadas e exploração mineira nas Américas reduziram o continente africano a fornecedor de escravizados no modelo comercial triangular.
O escravo era tão central para a presença europeia em África que a relação comercial e fiscal entre africanos e europeus, sempre que implicasse transacções pecuniárias o meio de troca eram escravos. Os soberanos africanos pagavam impostos aos portugueses com escravos, ofereciam escravos e armavam-se trocando escravos por armas de fogo, que eram usadas para manter e expandir o seu poder. Neste contexto, a Rainha Njinga Mbandi, descrita como política astuta que soube navegar as idiossincrasias do seu tempo como nenhum outro líder da época, também ofereceu escravos à religiosos e nas várias negociações que fez com portugueses e holandeses, liderou batalhas que geraram escravos, vendeu escravos para armar-se e defender a independência dos seus territórios das investidas dos portugueses e de líderes africanos hostis ao seu reinado.
A Njinga Mbandi inteligente, valente e defensora do território que defendia ser legado dos seus antepassados é que foi transportada para as Américas pela vasta Diáspora de povos oriundos de territórios que hoje formam Angola. Os escravizados africanos levados para as Américas, independentemente da forma em que acabaram na condição de escravo que antecedeu o seu transporte para a dura vida nas plantações e minas das colónias europeias, não construíram uma imagem negativa de Njinga Mbandi, pois na memória colectiva da Diáspora africana a Rainha do Ndongo e Matamba é vista como um exemplo de bravura e genialidade, Njinga Mbandi viveu na memória daqueles escravos como um exemplo de liderança africana num mundo alterado pela presença de forasteiros e não como uma traficante de escravos oportunista.
A negação do nome de Njinga Mbandi na toponímia de Berlim embora que em certa medida seja justificável, parece desinformada e vítima de descontextualização. A decisão parece ter sido afectada por um olhar do passado com óculos do presente sem que se tenham sido consideradas questões básicas como o modelo de geração de escravos em África no século XVII, o papel que os escravos tinham na sociedade africana pré-contacto com europeus, diferenças no modelo de exploração e tratamento de escravos em África e nas Américas, a forma de comunicação e disponibilidade de informação à época.
A complexidade das sociedades da época em que viveu a Njinga Mbandi tem sido descodificada nas últimas décadas por vários académicos que têm uma visão do lugar ocupado por Njinga Mbandi na história de África muito diferente daquela que sustentou a decisão das autoridades de Berlim, como demonstram os diferentes comentários feitos ao livro de Linda Heywood que é amplamente tido como a melhor e mais completa biografia de Njinga.
Njinga’s time has come. Heywood tells the fascinating story of arguably the greatest queen in sub-Saharan African history, who surely deserves a place in the pantheon of revolutionary world leaders, male and female alike.
Henry Louis Gates, Jr. sobre “Njinga of Angola – Africa’s Warrior Queen” de Linda Heywood
Um paralelo poderia ser feito com Thomas Jefferson que foi co-autor do marco intelectual que é a constituição dos Estados Unidos que em 1788 defendia que “todos os homens nascem iguais” mas seguindo a lógica de desumanização do escravo africano, os Estados Unidos continuaram a considerar a escravatura legal porque teoricamente não havia contradição. Thomas Jefferson, embora não tenha participação no tráfico de escravos (que chegou a criticar) foi ao longo de toda sua vida (1743-1826) proprietário de escravos e continua presente na toponímia de vários países, incluindo na Alemanha.
Nos Estados Unidos ao longo dos anos, muitas localidades têm estado a derrubar estátuas de líderes da Confederação de estados que lutou contra a união, essencialmente, pelo direito de ter escravos já no final do século XIX mas não é expectável que Jefferson seja retirado do Mount Rushmore ou mesmo veja o seu nome removido da Thomas Jefferson Straße (rua Thomas Jefferson) em Mannheim no estado Baden-Württemberg na Alemanha. Por outro lado, também não é expectável que a estátua da Rainha Njinga Mbandi seja retirada em Jamestown nos Estados Unidos.