Recentemente, o Ministério da Agricultura ordenou a destruição de cerca de 11 milhões de ovos que segundo o ministério foram importados ilegalmente porque não receberam as devidas autorizações das autoridades responsáveis, designadamente o Ministério do Comércio (MINCO) e o próprio Ministério da Agricultura. O caso dos 26 contentores de ovos nunca ficou claro para o público em geral, pessoalmente fiquei sem perceber se a violação era do foro sanitário, do foro comercial por violação de quotas estabelecidas pelo MINCO ou pelas duas razões.
Percebo perfeitamente que alimentos sem um aval que garanta o seu consumo em segurança devem ser analisados, nomeadamente por laboratórios locais ainda que isto implique multas pesadas para quem tenha violado a regra de pré-inspecção (que devem ser muito difíceis de violar), mas destruir ovos num país com falta de alimentos por falta de pré-inspecção quando existe possibilidade de inspecção local parece-me uma decisão questionável. Sobre a possibilidade de violação de quotas quando o decreto que legaliza o programa das quotas à importação de determinados bens está suspenso é de todo surpreendente, pelo que, não deverá ser por aí. Contudo, alguns produtores de ovos locais que falaram para o Semanário Económico (edição de 20 de Agosto de 2015) embarcaram na onda da necessidade do proteccionismo para garantir a continuidade das suas operações e, consequentemente, “empregos de angolanos”.
“Quando há demasiado ovo importado no mercado as vendas diminuem e a produção nacional ressente-se e faz com que não consigamos pagar o crédito, o salário dos trabalhadores, enfim, os ovos importados são uma concorrência desleal” Elisa José Manuel – Granja Agrícola (Funda)
“[o governo] está a auto-prejudicar-se, na medida em que permite a entrada de ovos importados no país, muitas vezes de forma ilegal (…) se [eu] for à falência, é obvio que é a garantia pública é que vai arcar com as consequências em relação ao banco (…) se o objectivo é diversificar a economia devemos nos desembaraçar dos produtores estrangeiros” Elsa Mussovela – Agripina (Huambo)
“Todo empresário que queira envidar esforços para diversificar a produção nacional e vê esta situação acredita que o projecto não vai funcionar. Todo e qualquer produtor que queira aumentar a produção nacional é surpreendido por pelos importadores que vendem ovos a preço de bagatela” António Chivinda – Avipal (Bié)
Lendo as opiniões de alguns produtores fica claro que “a classe” defende acerrimamente a introdução de quotas ou de outras barreiras à entrada de ovos importados para sobreviver mas ninguém se questiona porquê que os avicultores precisam de protecção alfandegária para sobreviver. Recentemente vimos os representantes de Angola dizer que o país deverá entrar na Zona de Comércio Livre da SADC (ZCL) em 2017 “se o país der os passos necessários” expressão que abre a janela para possibilidade de mais um inexplicável adiamento da nossa entrada para ZCL, aliás a Ministra da Indústria Bernarda Martins disse em Abril que “não pode haver um comércio livre sem o desenvolvimento industrial”.
O pior é que andamos a adiar a entrada na ZCL enquanto reforçamos barreiras à importação sob pretexto de estarmos a preparar-nos para melhoria da nossa competitividade antes de abrirmos as portas ao comércio livre quando na verdade temos feito muito pouco para melhorar a competitividade das nossas empresas que continuam com grandes dificuldades de abastecimentos de água e electricidade, continuam a ser servidas por estradas inadequadas, continuam a ser castigadas pelas alfândegas na importação de factores de produção e continuam a ser alimentadas por um sistema de educação sem qualidade, vivem num ambiente burocrático ineficiente e corrupto, são servidas por um sistema de justiça pouco confiável e lento e têm o seu espaço de intervenção extremamente politizado.
Se os produtores angolanos querem exigir a colaboração do governo para melhorar a nossa competitividade devem exigir uma abordagem diferente do investimento público, sobretudo no sistema de educação e na provisão de infra-estruturas (como energia, água, transportes, comunicações).
A ciência económica ensina que o preço é a peça de informação mais importante de um produto porque é com base nele que os consumidores julgam se vale a pena adquirir o bem ou não. Em ambiente de concorrência os produtores procuram produzir o melhor bem ao preço mais baixo possível e se não conseguimos produzir um ovo localmente que possa concorrer com um ovo sujeito a barreiras temos que nos perguntar “porquê” em vez de nos apressarmos a embarcar nos pedidos de protecção governamental.
Proteger sistematicamente a produção nacional dos importadores por meio de barreiras à entrada não está a resultar, é preciso atacar os custos de produção em Angola de forma séria para que se perca o medo do que é importado e que se ganhe o hábito de exportar. Diversificar não significa simplesmente substituir importações, é necessário aumentar exportações e a região da SADC constitui o nosso mercado externo natural. Não podemos dizer aos vizinhos que queremos exportar para lá e que de lá não queremos nada, não faz sentido tirar vantagem da nossa capacidade de produzir banana para exportar para o Congo e limitar continuadamente a importação de certos bens que ainda não produzimos com eficiência.
A pauta aduaneira não pode ser usada como um instrumento de política industrial, a pauta aduaneira é um elemento de contacto com o exterior e deve sinalizar o modelo de relação que o país quer com os seus parceiros comerciais, principalmente os que partilham consigo a mesma região e os sinais que temos passado para fora não são positivos para o desenvolvimento económico de Angola.
A produção angolana certamente ganharia com maior circulação de conhecimento, entrada menos onerosa de matérias-primas e maior contacto com produtores expostos a técnicas e tecnologias mais avançadas. Os impactos de curto prazo podem ser dolorosos mas não podemos duvidar da capacidade do agente económico de ajustar as suas “forças” quando vê-se privado da “mão protectora” do estado. Não defendo o fim total de medidas de apoio ou até de relativa protecção mas é preciso repensar a forma que abordamos a questão da ZCL e da nossa incapacidade de produzir de forma competitiva. Olhar as causas do problema e atacá-las uma a uma, a pauta aduaneira por si só não vai criar competitividade interna e se esta for a condição para entrada na ZCL a nossa entrada não será em 2017 com certeza.


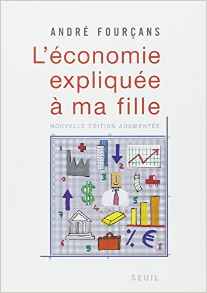 “Economia explicada à minha filha” – André Fourçans
“Economia explicada à minha filha” – André Fourçans


