 Há algum tempo li “A History of South Africa” de Leonard Thompson e fiquei impressionado pela história de sofrimento das comunidades negras da África do Sul desde o momento em que se começaram instalar colonatos europeus no século XVII.
Há algum tempo li “A History of South Africa” de Leonard Thompson e fiquei impressionado pela história de sofrimento das comunidades negras da África do Sul desde o momento em que se começaram instalar colonatos europeus no século XVII.
Os povos da África do Sul sempre lutaram contra o regime segregacionista e com as independências africanas na segunda metade do século XX ganharam novos aliados. Os vizinhos independentes da África Austral, em particular Moçambique e Angola, tornaram-se alvos do regime do apartheid. Líderes como Jacob Zuma e Oliver Tambo refugiaram-se em Angola e Moçambique, vários artistas encontraram paz noutros países africanos como Miriam Makeba que viveu na Guiné-Conacry. Este particular período da luta dos sul-africanos, cujo rosto e guia moral foi Nelson Mandela, é que torna as explosões de xenofobia inexplicáveis – em particular para os africanos que são os mais visados da fúria. Jacob Zuma, que viveu na pele a solidariedade do continente nos momentos difíceis, disse que é “inaceitável”, pese o facto do seu filho apoiar a posição do rei zulu, Goodwill Zwelithini, contra a permanência de imigrantes na África do Sul (o rei diz ter sido mal traduzido).
Os episódios de violência xenófoba perpetrados sobretudo por camadas mais pobres não são um fenómeno exclusivamente sul-africano. Historicamente as tensões anti-imigrantes aumentam em períodos de fraco desempenho económico e muitas vezes os estrangeiros servem de bode-expiatório. No caso sul-africano, a postura contra migrantes de outros países, especialmente africanos e asiáticos, não é exclusiva das camadas mais pobres (apesar de serem estas que executam as barbaridades); uma pesquisa da Southern African Migration Project revelou que 90% dos sul-africanos considera que existem imigrantes a mais no seu país e recentemente políticos destacados pronunciaram-se contra o número de estrangeiros no país, como a ministra para o Desenvolvimento de Pequenos Negócios, Lindiwe Zulu que disse que “os estrangeiros têm que perceber que estão aqui por cortesia e a nossa prioridade são as pessoas deste país… (os empresários estrangeiros) não podem barricar-se e escusar-se de partilhar as suas práticas com empresários locais”.
A teoria dos estrangeiros estarem a roubar os empregos dos sul-africanos é contrariada pelos números da organização Migrating Work Consortion, que demonstra que apenas 4% da força de trabalho na África do Sul é estrangeira.
The Migrating for Work Research Consortium (MiWORC), an organisation that examines migration and its impact on the South African labour market, released two studies last year that drew on labour data collected in 2012 by Statistics South Africa.
They found that 82% of the working population aged between 15 and 64 were “non-migrants”, 14% were “domestic migrants” who had moved between provinces in the past five years and just 4% could be classed as “international migrants”. With an official working population of 33 017 579 people, this means that around 1.2-million of them were international migrants. (link)
O que mais choca África é ver a última fronteira da luta contra o racismo no continente tornar-se num ingrato centro de xenofobia, que, como disse o histórico do ANC Ahmed Kathrada: “xenofobia é racismo”.
Podemos partir para teoria que anos de “separação” do continente num ambiente em que o africano era reduzido a lixo contribuíram para as relações difíceis entre sul-africanos e outros africanos, mas parece que o problema das relações entre povos de África é continental e não apenas de um país. Tenho a impressão (e temo estar certo) que as organizações regionais e continentais em África servem apenas para banquetes periódicos dos líderes enquanto que os cidadãos africanos pouco ou nada beneficiam das relações institucionais intra-africanas.
O sistema colonial terminou mas a herança continua presente. Tipicamente, os países africanos têm maiores (e por vezes melhores) relações com a antiga potência colonial ou com “irmãos do mesmo colono” (Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil, Portugal | Ghana, Nigéria, Uganda, Reino Unido | Benin, Senegal, Mali, França). No caso de Angola, vivem entre nós muitos imigrantes africanos, europeus, americanos e asiáticos e é perfeitamente palpável a diferença das nossas relações pessoais com europeus e com africanos. Nas nossas festas mais facilmente encontramos um amigo francês ou português do que um congolês ou nigeriano eventualmente porque estamos cercados de preconceitos que só poderão ser resolvidos com maior interacção e a cultura pode jogar um papel importante já que é igualmente palpável uma afinidade com as cores e sons de outros países do continente porque nenhum ouvido africano é indiferente ao batuque.
Os sul-africanos estão a atacar os pequenos negócios dos etíopes carregados de concepções erradas. Em Angola é frequente ouvir teorias conspiratórias e de certa forma preconceituosas sobre os “Mamadus” que operam as cantinas. Os sul-africanos hoje discriminam e agridem os moçambicanos que há algumas décadas atrás chegaram-se a frente para combater o apartheid e nós temos hoje uma relação apática com os nossos vizinhos congoleses que outrora acolheram (nem sempre com a hospitalidade devida, é verdade) muitos angolanos.
Apesar de tudo, o batuque é tão familiar a todos nós que o kuduro do Cabo Snoop faz furor no continente inteiro, como faz sucesso o som do congolês Fally Ipupa ou a batida do azonto do Gana e do Afrobeat feito na África do Sul, aliás o Uhuru mais famoso de África não é o presidente do Quénia mas sim o grupo musical sul-africano.
Não bastará os africanos não serem agredidos na África do Sul, é preciso criar espaço para troca de experiências e intercâmbio cultural entre os povos. É preciso entender as razões por detrás do fluxo de migrantes africanos para os países do continente (e não só) que apresentam mais oportunidades, é preciso elucidar as pessoas para os factos para abater falsidades e é preciso tornar a solidariedade africana num conceito abrangente e não apenas num escudo de defesa de lideranças duvidosas.
De todo modo, os problemas económicos da África do Sul não podem apagar a sua história recente e não podem guiar o país que ambiciona ser a “nação arco-íris” para a falência moral. Depois dos acontecimentos de 2008 torna-se ainda mais inaceitável assistir tanta barbaridade pelas mesmas razões, desta vez é preciso um diálogo franco e abrangente porque uma repetição de tais acontecimentos poderá ser fatal para a reputação da nação.

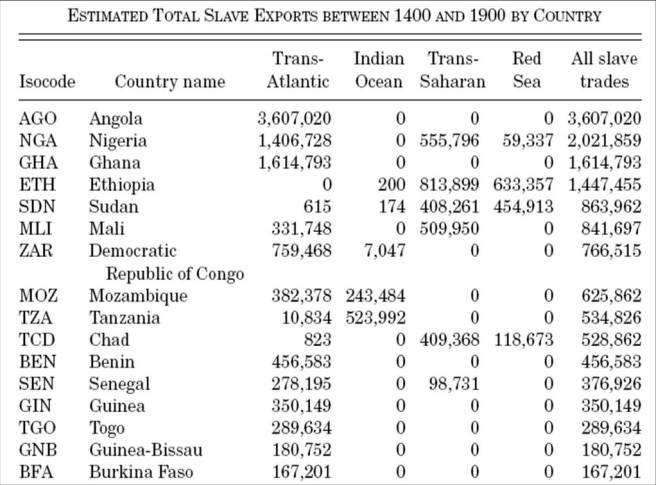



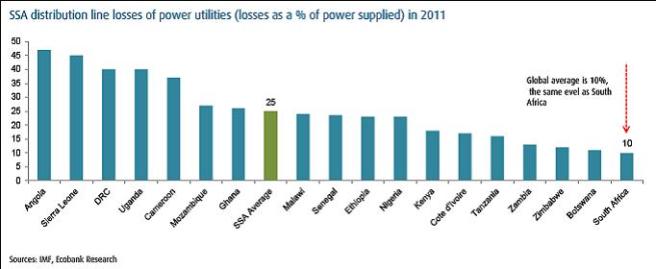
 Gregory Zuckerman é um daqueles autores com um talento especial para escrever a história como se de um romance se tratasse, o autor de “The Greatest Trade Ever”, livro que descreve a elaboração e execução da estratégia de John Paulson e seus colaboradores na maior transacção de sempre que tirou proveito do colapso do mercado imobiliário dos Estados Unidos, abraçou em “The Frackers” a história dos pioneiros da exploração de petróleo e gás para lá das rochas de xisto. Em boa verdade, o homem sabe há muitos anos da existência de hidrocarbonetos em “armadilhas” de rochas (o nome “petróleo” significa “óleo da pedra”) mas a insistência de um grupo de empreendedores americanos foi o primeiro capaz de explorar com sucesso comercial as riquezas abaixo das camadas de xisto.
Gregory Zuckerman é um daqueles autores com um talento especial para escrever a história como se de um romance se tratasse, o autor de “The Greatest Trade Ever”, livro que descreve a elaboração e execução da estratégia de John Paulson e seus colaboradores na maior transacção de sempre que tirou proveito do colapso do mercado imobiliário dos Estados Unidos, abraçou em “The Frackers” a história dos pioneiros da exploração de petróleo e gás para lá das rochas de xisto. Em boa verdade, o homem sabe há muitos anos da existência de hidrocarbonetos em “armadilhas” de rochas (o nome “petróleo” significa “óleo da pedra”) mas a insistência de um grupo de empreendedores americanos foi o primeiro capaz de explorar com sucesso comercial as riquezas abaixo das camadas de xisto.