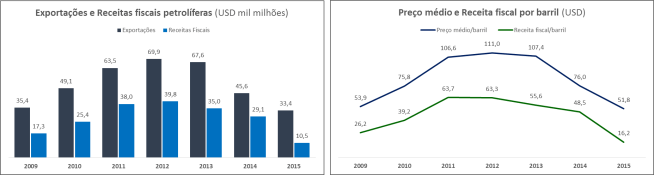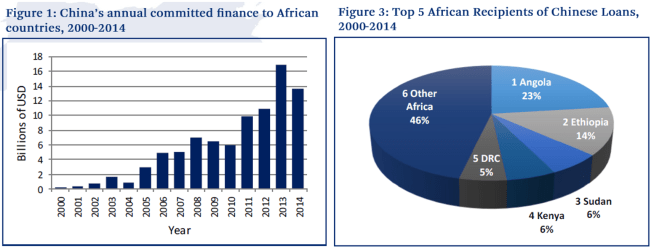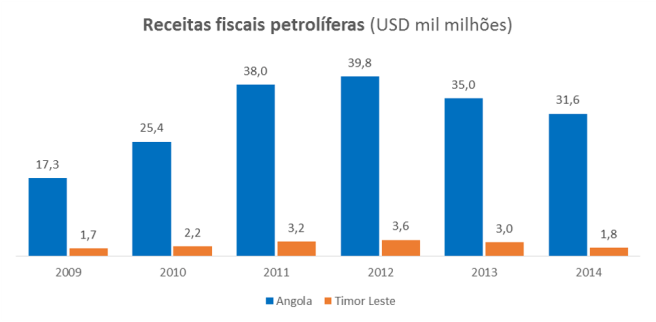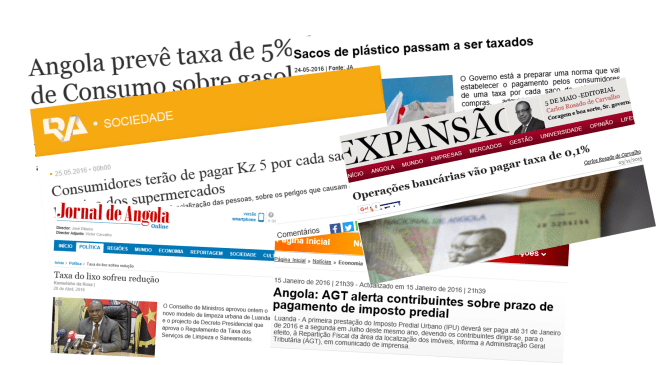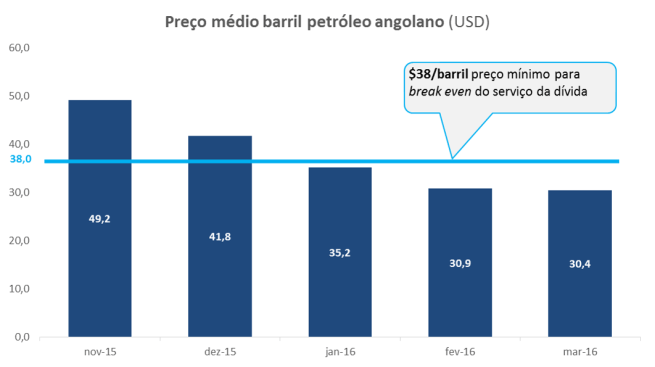Cecil Rhodes é uma das mais visíveis figuras da história recente de África e um dos ícones do imperialismo britânico. O empresário, político e colonialista que nasceu em Inglaterra fundou a empresa mineira De Beers com Charles Rudd e tornou-se no fim do século XIX num dos homens mais ricos do mundo. Rhodes foi primeiro-ministro da Colónia do Cabo e usou o seu dinheiro para perseguir o sonho de expandir a presença britânica pelo mundo começando pelo sul de África onde criou a Rodésia no território que hoje é o Zimbabwe que passou à Rodésia do Sul depois da fundação de outro protectorado britânico a norte com o nome Rodésia do Norte, hoje Zâmbia. Como o nome indica, Rodésia deriva do sobrenome de Cecil John Rhodes (Rhodesia em inglês) mas o fim do colonialismo ditou o fim desta homenagem toponímica, não simplesmente por pueril fervor revolucionário mas sobretudo pelo lado tenebroso da história de Cecil Rhodes.
Cecil Rhodes defendia a superioridade dos europeus (sobretudo dos britânicos) e considerava os africanos bárbaros, no seu consulado como líder executivo da Colónia do Cabo esforçou-se na implementação do Glen Grey Act que forçou a saída de populações africanas das suas terras e procurava forçar os homens xhosa a trabalhar nas propriedades comerciais de europeus na região do Cabo Oriental. A implementação desta política que tem uma base filosófica racista implicava a utilização de métodos violentos e humilhantes cuja aceitabilidade nas elites coloniais da época chocaria qualquer pessoa com bom senso nos dias de hoje. A mudança do mundo obrigou o fim do nome Rodésia e os zimbabweanos resolveram homenagear o Grande Zimbabwe para baptizar o seu país enquanto que os zambianos homenagearam o rio Zambeze (“rio de Deus”).
Em Angola, o fim do domínio colonial português em 1975 ditou a alteração do nome de várias localidades e ruas e até da grafia de algumas localidades passando a reaparecer o K no lugar de C e sendo privilegiado o W em detrimento de U a luz das convenções para as línguas africanas que precederam o aportuguesamento da toponímia e de palavras africanas. A alteração dos nomes era vista como uma forma de marcar a vitória pela a independência e como afirmação da identidade africana dos angolanos independentes há muito oprimida institucionalmente pelo colonialismo, este era também um dos objectivos de movimentos como “Vamos Descobrir Angola” onde participaram figuras como Viriato da Cruz, António Jacinto e Luandino Vieira. Contudo, recentemente o Ministério da Administração do Território (MAT) oficializou o re-aportuguesamento dos nomes das localidades (e alguns rios) angolanos em perfeito contraste com os ideais de outrora.
Com efeito, o MAT pretende “deskapalizar” o nosso mapa e assim Kuando Kubango dá lugar à Cuando Cubango e as províncias separadas pelo rio que deu nome à nossa moeda passam a ser Cuanza Sul e Cuanza Norte (aparentemente a moeda mantém o nome Kwanza). Mas uma das mais espectaculares curiosidades da recente alteração toponímica promovida pelo MAT foi o reaparecimento de Moçâmedes no mapa de Angola, regressando assim a cidade do Namibe ao nome que ostentava no período colonial.
O nome Moçâmedes é uma homenagem ao antigo governador-geral de Angola José de Almeida e Vasconcelos Soveral e Carvalho, o Barão de Moçâmedes (ou Mossâmedes). Quando ordenou a exploração de terras à sul de Benguela em 1785, o Barão despachou o tenente-coronel Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado e o sargento-mor Gregório José Mendes e quando chegou à Angra do Negro – o nome pelo qual os portugueses conheciam a zona do porto do Namibe por ser um local de embarcação de escravos – rebaptizou o local como Porto de Moçâmedes em homenagem a José de Almeida e Vasconcelos.
José de Almeida e Vasconcelos que antes de cumprir a missão em Angola foi um capitão-mor de sucesso na capitania de Goiás no Brasil, para onde foi enviado pelo Marquês de Pombal, chegou a Angola em 1784 e tinha entre as suas prioridades retomar o controlo metropolitano do comércio de escravos e das receitas aduaneiras inerentes ao comércio de pessoas que estava a ser dominado por comerciantes baseados no Brasil, ao Barão foi requerida a imposição de barreiras à navios brasileiros em favor dos navios oriundos de Portugal mas cedo percebeu que a sua missão poderia comprometer a dinâmica económica da colónia uma vez que a implementação de medidas limitativas da actividade dos comerciantes brasileiros poderia afectar o volume de trocas e, consequentemente, as receitas aduaneiras da colónia. Assim, o governador-geral tentou uma abordagem mais flexível das instruções que recebeu da metrópole e entre 1780 e 1790 (José de Almeida e Vasconcelos governou entre 1784 e 1790) o tráfico de escravos atingiu níveis recorde na colónia como contou Joseph Calder Miller no livro “Way of Death: Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade, 1730-1830”.
Contudo, sob seu comando, foram reorganizadas as feiras no interior destinadas ao comércio de bens e pessoas, foi reformulada a máquina burocrática da colónia e foram posteriormente impostas restrições à importação de produtos ingleses que os brasileiros usavam nas suas trocas com o intuito de proteger a da produção portuguesa. Terão sido estes os maiores feitos do consulado de José de Almeida e Vasconcelos como governador-geral em Angola.
Assim, retomar o nome de Moçâmedes (que curiosamente nunca abandonou os caminhos-de-ferro) é efectivamente homenagear um servidor diligente do colonialismo. Sendo certo que a tolerância ao comércio de pessoas na época não é comparável com que vivemos hoje e que o Barão de Moçâmedes é amplamente considerado como um servidor público de qualidade pelos serviços prestados para o império português, a causa que serviu jogou em muitos aspectos contra a causa dos povos de Angola.
Cecil Rhodes continua presente na toponímia da África Austral apesar do combate ao seu legado ter-se iniciado nos anos 1950 com protestos de Afrikaners e ainda hoje largas franjas da sociedade sul-africana, com maior expressão para os negros, pedem a eliminação de todas as referências ao seu nome e exigem a retirada das suas estátuas como já o fez a University of Cape Town. O movimento #RhodesMustFall é um dos rostos do que na África do Sul chamam de “descolonização da universidade” que visa retirar traços de práticas negativas do antigo regime que prevalecem no presente. Por outras palavras, a sul de Angola é quase impossível pensar-se numa “recolonização toponímica” como promoveu o MAT, que na minha modesta opinião é desnecessária e vazia de razão.
Com o regresso ao nome colonial, Moçâmedes – salva melhor informação – passa a ser a única capital de província angolana cujo nome homenageia uma pessoa, curiosamente uma pessoa ligada à administração colonial em pleno período de vigência do comércio transatlântico de escravos, a principal actividade comercial e principal fonte de receitas para administração colonial em Angola. A vila costeira no sul de Angola passou a ser conhecida como Moçâmedes (Mossâmedes) unicamente porque o administrador colonial que ostentava o título nobiliárquico de Barão de Moçâmedes, recém chegado à Angola ordenou uma missão exploratória à região e não necessariamente por algum feito especial do Barão de Moçâmedes que na altura em que se realizou a missão estava em solo africano há menos de um ano, depois de uma experiência governativa na Capitania de Goiás, hoje um estado brasileiro que tem um município com o nome Mossâmedes, antes Aldeia São José e rebaptizada pelo Barão com o nome de São José de Mossâmedes, de má memória para os índios ali escravizados no âmbito de uma política de integração da população autóctone na vida económica e social da capitania.
Pelas questões apresentadas acima, fica a ideia que a decisão de passar o nome da cidade do Namibe para Moçâmedes foi baseada em informação frágil uma vez que representa efectivamente uma homenagem à um homem cujas acções, por iniciativa própria ou por inerência das funções que desempenhava, o desqualificam para qualquer tipo de homenagem toponímica na Angola de hoje. Para já, parece ser um caso arrumado mas espero que um dia seja corrigido.